Podemos nos apaixonar por uma pergunta?
Há um livro chamado “Apaixone-se pelo problema, não pela solução”. O título parece criticar pessoas obstinadas por “fechamentos”, em vez de aproveitarem o processo que leva a eles. Não li, apesar de achar que é um baita título para vender livros.
Para mim, a crítica do título é uma questão secundária, pois meu amor incondicional é dedicado às perguntas, mais especificamente a uma pergunta que me ocupa nas pesquisas há duas décadas. Problemas e perguntas não são a mesma coisa, e o mesmo ocorre com soluções e respostas. Soluções e respostas podem compartilhar propriedades que proporcionam a sensação de fechamento desejada pelos obstinados, mas são animais diferentes.
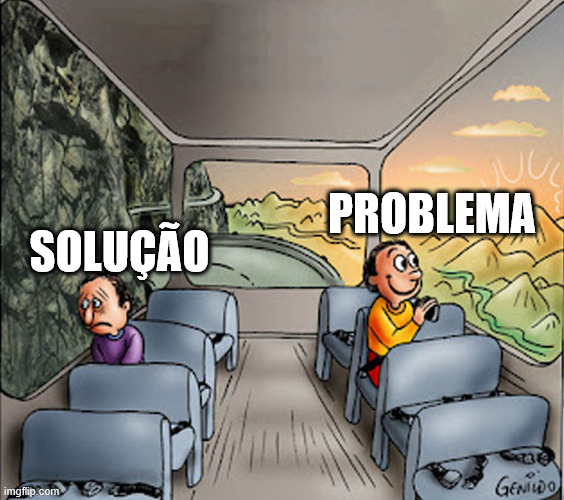
Entendo quem critica a ênfase nas soluções (especialmente aqueles que são empreendedores por esporte), pois realmente me divirto com o processo. Contudo, soluções são importantes. Fechamentos recompensam o tempo e esforço investidos no processo e, nos tempos atuais, concluir o que quer que seja, por menor e mais insignificante que possa parecer, importa muito. Acredito em micro vitórias, constantes e tangíveis, em vez de consagrações apoteóticas e inalcançáveis.
Respostas, por outro lado, podem nunca ser obtidas. Essa condição desconcertante não é uma dificuldade, pelo contrário. Respostas trabalhosas para se alcançar revelam o quanto o nosso conhecimento sobre o tema é precário e, consequentemente, o quanto nossas perguntas são mal formuladas. Quando estamos no nível correto de abstração, as perguntas e respostas parecem se conectar de modo surpreendentemente simples.
Empreendedores são capazes de vender, sem hesitar, as soluções que passaram tanto tempo perseguindo. Daí a valorização do processo, para permitir o desapego das coisas que os ocuparam por tanto tempo. Entendo isso como uma das diferenças entre soluções e respostas: estas, quando se apresentam como novas perguntas, são simplesmente mais combustível para a jornada, tendo relevância temporária. Já a solução anseia ser definitiva, encerrando o processo, ainda que não seja da melhor forma possível.
Este processo que descrevo para as respostas trata de “diferenciações”, não de “aprimoramentos”. Considere exames oftalmológicos: a projeção está bem na sua frente, ora embaçada, ora nítida. Você pode apertar os olhos, arriscar algumas letras, forçar a cabeça, mas nada disso se compara à mudança da lente no aparato. Os gestaltistas diziam que era necessário passar a enxergar a resposta, que estava lá mas não era vista (“in-sight”, literalmente).
Me parece que aí está a diferença mais importante entre perguntas-respostas e problemas-soluções: empreendedores seriais se encantam por novos desafios, enquanto eu tenho amor por aquela pergunta que insiste em me assombrar por anos, sem nenhuma expectativa ou desejo de me livrar dela. Vamos à tal pergunta.
Dependendo da solução que apresentamos para o problema da representação mental nas Ciências Cognitivas, obtemos distintas formas de entender a cognição e a relação dela com o mundo. Não consigo expressar, em poucas linhas, o quanto esse problema é complexo. Não observamos representações mentais diretamente, nem pelas técnicas recentes das neurociências. O que temos por lá são os correlatos neurais dos processos de representação, isto é, a atividade neurológica que coocorre quando manipulamos as representações mentais. Para complicar mais um pouco, preciso lembrar que as várias abordagens da cognição discordam até mesmo se as representações mentais existem e se são manipuláveis de algum modo.
Talvez este seja o “grande problema” da área, disputando a atenção dos pesquisadores do primeiro escalão com o fenômeno da consciência. Dependendo da sua opção no cardápio das teorias explicativas, os métodos e técnicas envolvidos para se estudar a cognição mudam substancialmente.
Poucos pesquisadores de fora das Ciências Cognitivas problematizam essa escolha no cardápio, fazendo nenhuma ou poucas suposições ingênuas (de “psicologia popular”) sobre o funcionamento da cognição quanto às representações. Em seguida, desenham instrumentos de coleta que, quase sem dificuldades, seriam capazes de obter dados sobre as cognições das pessoas no fenômeno de interesse. Por exemplo, perguntas abertas e fechadas, escalas de diferencial semântico, de Likert, emojis para assinalar, esse tipo de coisa. Finalmente, analisam os dados e tiram conclusões sobre “o que a pessoa estava pensando” (sentindo, percebendo, lembrando, processando – qualquer atividade mental serve). Os percalços, na maioria das vezes, se referem à compreensão dos enunciados dos itens dos instrumentos – vocabulário incompatível com o dos participantes, redação ruim, ambígua e assim por diante.
A minha pergunta apaixonante, surgida nos primeiros contatos com instrumentos de pesquisa no mestrado (2005), foi simples assim: por que essas perguntas conseguem identificar o que se passa com as representações mentais?
Era uma pergunta ruim, muito ruim. De qualquer modo, foi uma primeira pergunta que me ajudou a explorar o imenso território da produção científica que tenta definir o estado ontológico das representações mentais. Uma vez definido (ou negado), há diferentes caminhos para investigar o que acontece quando a pessoa está pensando (sentindo, percebendo...).
Vinte anos depois, com o mestrado, doutorado e pós-doutorado perturbados pela pergunta, ela está declarada de forma muito mais precisa, interessante e difícil de conversar com as pessoas informalmente. Isso é causado pela enxurrada de novos conhecimentos introduzidos pelas sucessivas respostas conformadas como outras perguntas. Descobri uma das subáreas dedicadas à questão (Psicometria), a teoria que tenta fornecer respostas (“Teoria da Medida” em suas diversas encarnações e disputas), o papel das linguagens utilizadas na empreitada (Matemática e Estatística) e a principal filiação dos pesquisadores que ofereceram respostas (a Psicologia Matemática).
Eu tenho mais dúvidas hoje que há 20 anos sobre a capacidade de um dado item em um instrumento coletar dados acerca do que quer que seja sobre representações mentais. Estudar o assunto por tanto tempo me deixou cauteloso sobre dar respostas, por mais inofensivas que sejam as perguntas. Acho isso apaixonante.
A vertente da Teoria da Medida que venho estudando desde o final do pós-doutorado é denominada “Representacional”, embora o nome seja mera coincidência com a minha pergunta inicial. O que está em jogo é a possibilidade de estabelecermos correspondências, como em funções isomórficas e homomórficas, entre a estrutura empírica de um dado fenômeno (p.ex., uma representação) e a estrutura qualitativa de subconjuntos dos números reais (ℝ). Há uma série de exigências para que isso seja alcançável, todas elas envolvendo principalmente álgebra e teoria dos conjuntos. Eu avisei que seria difícil de conversar sobre isso com as pessoas, então vou parar por aqui.
Aquela pergunta me fez voltar retornar à Matemática do ensino médio e flertar com a do ensino superior. Descobri que gosto bastante das discussões sobre epistemologia da ciência, em que o tema do que pode ou não ser “medido” é fundamental e segue sob disputa. Como bônus, encontrei na história dessa disputa a luta pela autonomia e delimitação dos contornos da própria Psicologia enquanto ciência.
Nesse tempo todo, não fiz nada prático com os desdobramentos da minha pergunta. Acho que orientei melhor a elaboração de instrumentos e delineamento dos estudos dos meus orientandos. Adicionei doses cavalares de parcimônia às minhas próprias pesquisas. Certamente, essa cautela não gera seguidores. Estamos afogados em solicitações para participarmos de pesquisas que aplicam instrumentos construídos no Google Forms sem levar essas questões em consideração. Questionamentos sobre o que estaria ou não sendo medido atrapalham a indústria das publicações, TCCs e títulos.
Assim mesmo, o poder desse tipo de pergunta, tão essencial e básico, é avassalador. Justamente por ser tão básica é que ela dura tanto. Essa pergunta ataca tudo que fiz e que farei e, pela falta de respostas, sigo a vida em um relacionamento sério com ela. Enquanto isso, ela me observa por cima dos ombros, ora reprovando, ora apoiando minhas escolhas, sempre se transformando em algo diferente e que me empurra adiante.
Podemos e devemos nos apaixonar por uma (ou muitas) perguntas.
